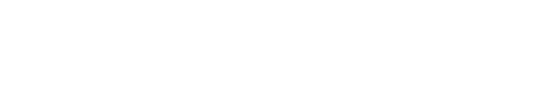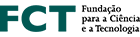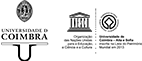Interesses Privados, Custos Sociais: Como ultrapassar vulnerabilidades sistémicas que persistem?
Vítor Neves
A economia é um sistema de provisão e uso das condições materiais da vida das pessoas. Está centrada nas atividades de produção de bens e serviços e na repartição dos seus resultados. O seu objetivo último deveria ser a provisão de bem-estar, a realização das condições materiais para uma “vida boa” para todos. Na realidade, o capitalismo financeirizado em que vivemos em Portugal, fortemente exposto ao condicionamento exterior próprio de uma pequena economia aberta, tem o lucro e o poder de um capital cada vez mais transnacional (da indústria à banca, da energia às redes de comunicação, aos aeroportos e outros domínios da atividade económica) como sua matriz essencial e determinante fundamental do funcionamento do sistema económico. A consideração das “necessidades humanas” – ou mesmo a “soberania do consumidor”, na linguagem laudatória, mas enganadora, dos manuais de Economia – como objetivo último da atividade económica não passa de uma miragem. O Estado, que poderia ser a instituição capaz de regular e estruturar o funcionamento dos mercados, condicionando-os no sentido da realização plena da “vida boa” na Polis, é na verdade uma entidade frágil, fortemente condicionada por regras e instituições supranacionais de cunho marcadamente neoliberal ao nível europeu, a qual, embora atravessada por importantes contradições internas, é em grande medida orientada para a promoção, coordenação e garantia de continuidade da defesa dos interesses privados e empresariais.
O problema:
Os custos sociais do capitalismo português
A economia portuguesa, a exemplo do que acontece de forma mais ou menos generalizada à escala global, estrutura-se em torno de arranjos institucionais assentes na lógica do “imperialismo internacional do dinheiro” e da busca do lucro empresarial. A ideia do ser humano como pessoa, o bem comum e a perspetiva do desenvolvimento humano sustentável são sacrificados à lógica dos interesses privados e as pessoas, quais trabalhadores chaplinianos dos Tempos Modernos, transformadas em peças de uma máquina cuja lógica implacável as ultrapassa.
O capitalismo neoliberal tem vindo a acentuar esta lógica. A crise financeira de 2008 e a das dívidas (externa e soberana) que se lhe seguiu, particularmente entre 2010 e 2014, com a intervenção da troika, pôs ainda mais a claro as suas tendências pesadas no país. O trabalho tornou-se mais precário, uma “variável” de ajustamento, e como tal necessariamente flexível (entrando pela esfera adentro da estruturação da vida familiar), com os trabalhadores (os chamados “recursos humanos”) obrigatoriamente predispostos para se adaptarem às exigências de “mudança” impostas por uma máquina económica cada vez mais “dinâmica”, o salário foi sacrificado às exigências da competitividade e da rentabilidade das empresas, e o mercado, fortemente apoiado pelo Estado numa relação frequentemente promíscua, tem-se vindo insidiosamente a alargar a todas as esferas da vida. A lógica dos interesses privados e a pressão no sentido da mercadorização vão-se impondo também nas áreas em tempos consideradas prioritariamente não mercantis: na saúde, na educação, nas áreas do cuidado, na investigação científica, na organização das cidades e dos sistemas urbanos e de transportes, no sistema de pensões.
A economia portuguesa, como as restantes economias europeias, é cada vez mais uma “sociedade de mercado”. Um modo de pensar o mundo e a vida em termos “económicos”, com frequência, mas inadequadamente, designado “economicismo”, molda as mentalidades. Tempo é dinheiro; a vida humana é reduzida a um valor estatístico que pode e deve ser contraposto a outros valores, também eles pensados em termos monetários; a proteção do meio ambiente constitui um custo que se tem de confrontar com o do sacrifício do modo presente de organização da vida social. Tudo é submetido à lógica inexorável do cálculo económico e da análise custo-benefício. Economia e ética, eficiência e equidade tornam-se campos irremediavelmente separados e dificilmente compatibilizáveis.
Capturado por esta lógica, o Estado Social mostra-se frágil e vulnerável. A educação, a saúde, o sistema público de pensões são cada vez mais considerados custos incomportáveis; as condições para a atribuição do subsídio de desemprego mais difíceis; as pessoas estão a ser afastadas das casas mais bem situadas pela pressão de um investimento imobiliário rentista sem conseguirem encontrar uma resposta pública de habitação adequada.
Ao mesmo tempo, a esfera pública vai sendo sobrecarregada com custos que deveriam ser privados: é o Estado que suporta os custos da flexibilidade laboral e da degradação das condições de trabalho, que se responsabiliza pela socialização dos riscos da especulação financeira mal sucedida e que, de um modo geral, assume o papel de “bombeiro” que, numa lógica mais ou menos assistencialista, procura minorar os danos causados pelo rolo compressor da máquina económica, são os variados subsídios e benefícios fiscais concedidos às empresas.
E pelo meio, decisões há que, determinadas por preços que não refletem os custos reais da produção, como acontece com a opção entre o transporte aéreo e formas mais ecológicas de transporte, como o ferroviário, empurram os custos para o futuro.
Em vez de promover a realização das condições materiais para uma “vida boa” para todos na Polis, esta economia tem vindo a privilegiar a promoção dos interesses privados. O resultado já foi designado de “economia cruel” e de “economia do medo”. O Papa Francisco chamou-lhe, apropriadamente, a economia que mata. É uma economia cuja lógica intrínseca conduz à produção de “custos sociais”, custos da atividade económica ilegitimamente “externalizados” por aqueles que os produzem, transferidos para a comunidade, e que violam direitos sociais fundamentais resultando num desfasamento crescente entre o que a sociedade legitimamente espera da economia e o que realmente obtém.
A alternativa:
Resgatar a economia da matriz do lucro
A crise pandémica da covid-19 e suas consequências económicas e sociais – e a crise ambiental que, sem grande risco de errar, podemos antecipar num prazo não muito longínquo – vieram dar uma relevância acrescida às vulnerabilidades económicas e sociais de natureza sistémica que caracterizam o modo como nos organizamos como sociedade. Como reorganizar um país vulnerável?
A alternativa para lidar com o problema dos custos sociais há de passar pela construção do que Eduardo Paz Ferreira, na senda de Avishai Margalit, chamou uma “sociedade decente”. É uma luta, em primeiro lugar, no plano das ideias. Dizia Marx que os filósofos se haviam limitado a interpretar o mundo, mas que o que era importante era transformá-lo. Na realidade, as ideias, como pensava Keynes, são muito mais poderosas do que é usual pensar-se (“De facto, o mundo é governado por pouco mais”).
Os custos sociais decorrem de uma lógica específica que importa desconstruir: a de que os mercados ditam o valor das coisas, das pessoas e da vida. É preciso romper com a ideia de racionalidade económica assente na contabilidade mercantil e discutir os critérios de valoração económica: a incomensurabilidade dos valores e os limites do cálculo monetário; a inadequação da eficiência e do crescimento económico, medido com base no PIB, como critérios de avaliação do desempenho da economia; a importância de uma nova contabilidade social. E é fundamental resgatar a pessoa humana e a sustentabilidade da vida como critérios últimos de valoração de todas as políticas. Implica um retorno da economia (como ciência e como prática) à ética e o pensar a economia e a política em termos de justiça social e solidariedade (o recentramento da economia no ser humano como sua matriz fundamental).
Mas o saber quem paga os custos sociais do capitalismo convoca-nos, em última análise, para a construção de arranjos institucionais apropriados, o que exige novas formas de pensar o “económico” e a afirmação de um novo modelo de cidadania e participação democrática. Na verdade, a história política dos últimos dois séculos pode ser caracterizada, como defendeu K. W. Kapp, pela luta de grandes massas de pessoas (e pela resistência que essa luta suscitou) contra os custos sociais do capitalismo e pelo controlo popular sobre as instituições e políticas económicas.
A alternativa constrói-se no plano dos arranjos institucionais que geram (ou, pelo contrário, contribuem para minimizar) os custos sociais e no das ideias que subjazem a tais arranjos e que os sustentam.