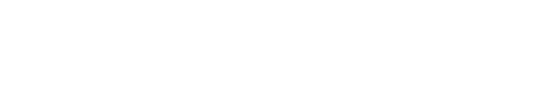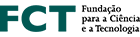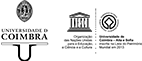As parcerias público-privadas (PPP), tributárias de uma ideia de cooperação e divisão de riscos entre o setor público e o setor privado no investimento e prestação de serviços públicos, surgem, na viragem neoliberal da década de 1970, de forma algo nebulosa, num contexto de crise económica e de contração de um Estado crescentemente conotado com ineficiência e despesismo. A introdução do parceiro privado “racional” na prestação de um serviço público suprimiria os vícios do parceiro público mau gestor e burocrata, diminuindo o nível de endividamento público e otimizando o sistema de gestão.
Foi em 1992, no Reino Unido, com o governo de John Major, que se lançou o primeiro programa sistemático de incentivo às parcerias público-privadas – a private finance iniciative. Portugal recebeu com entusiasmo esta nova forma de olhar para os serviços públicos, recorrendo sistematicamente ao setor privado para o seu financiamento. Primeiro, por via das concessões rodoviárias; depois, alargando a setores parcamente utilizados noutros países, como a saúde, a justiça e a água.
De solução para a ineficiência do Estado, as PPP passaram rapidamente a agentes provocadores da sua própria crise, restringindo o campo de decisão política e onerando o interesse público. O recurso às PPP foi acompanhado da redução dos quadros do Estado nas áreas de intervenção do setor privado, provocando um esvaziamento da competência técnica do setor público. A longo prazo, as PPP colocam o Estado na dependência crescente dos parceiros privados, vendo-se impedido de avaliar convenientemente parcerias futuras. Por outro lado, surgem notícias que colocam em causa a génese das PPP (a divisão de riscos entre o setor público e o setor privado), multiplicando-se exemplos em que a repartição de vantagens e riscos entre público e privado é profundamente desigual e em que o pretendido aumento de eficiência dá lugar a um aprofundamento do endividamento público e concomitante depreciação qualitativa do serviço público.
Paula Fernando