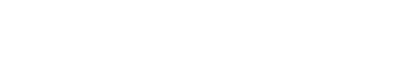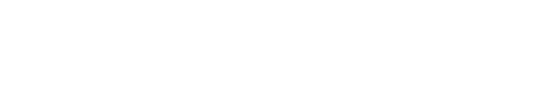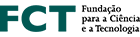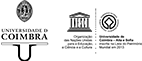O crescimento económico é entendido usualmente como um objetivo de política prioritário, se não o mais importante de todos. Assistimos frequentemente a debates sobre políticas ambientais, de saúde, laborais ou de redistribuição de rendimentos, entre outros, centrados mais no impacto que estas políticas terão no crescimento e menos no seu valor intrínseco. Por detrás destes debates está o pressuposto de que existe uma relação direta entre o crescimento contínuo na quantidade de coisas produzidas e consumidas e certos fins valorizados socialmente, como o emprego, o bem-estar e até a felicidade humana.
A importância dada ao crescimento, contudo, é contestável do ponto de vista moral e da ecologia. De um lado, temos a ideia de que a acumulação material sem fim não torna as pessoas mais felizes, não cria bem-estar social e induz sentimentos de ganância, competição e individualismo que são contrários à vida boa em sociedade. Do outro, temos a constatação de que não é possível um sistema produtivo expandir-se ilimitadamente com base em recursos que, por definição, são limitados.
Destas críticas ao crescimento surgem várias propostas de reforma ou transformação do sistema produtivo, desde a introdução de indicadores alternativos ao PIB na contabilidade nacional até ao pós-crescimentismo (onde se inclui o decrescimentismo). Em particular, as propostas pós-crescimentistas, de inspiração tão diversa como o budismo, o “bem viver” indígena, o eco-socialismo, o autonomismo ou o localismo, visam a reorientação do sistema produtivo para a satisfação das necessidades humanas essenciais, desligando o emprego e a proteção social em relação ao crescimento. O que estas propostas têm em comum é a ideia de que a sustentabilidade, social e ambiental, é incompatível com o crescimento. Por outras palavras, para os pós-crescimentistas a expressão “crescimento sustentável”, muito em voga em contexto de crise, é uma contradição nos termos.
Ricardo Coelho