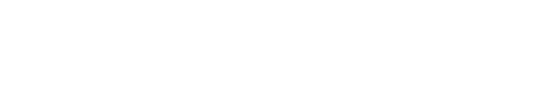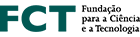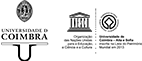O Estado, tal como o pensamos na atualidade, é uma figura relativamente recente. Foi-se formando num processo de centripetação dos poderes disseminados pela sociedade. Nas sociedades tradicionais e no sistema político que as presidia, o clientelismo, com todo o seu cortejo de dependências pessoais, formava microssistemas autónomos de trocas e proteção muito fortes e alternativos ao próprio sistema estatal. Coexistiam, assim, diversas formas de ordens na comunidade doméstica, as quais, pensava-se, seriam tendencialmente incorporadas numa só comunidade política estatal oficial.
O que aconteceu foi que a predominância do paradigma estadualista proporcionou um quadro teórico onde prevalecia uma visão de unificação total de tais ordens, com a consequente racionalização da sociedade sob o monopólio da ordem estatal, bem como a separação nítida entre Estado e sociedade civil. Esta visão concorreu para que não fosse contemplada a possibilidade real de um eventual pluralismo e sistemas contraditórios de ordens continuassem a subsistir.
Assim, no decurso da modernização das sociedades, deve constatar-se que muitas ruturas se operaram, mas muitas continuidades se podem manter. Entre elas, dependendo da cultura política vigente, formas de clientelismo. É que não foram totalmente abaladas as relações tradicionais, persistindo sub-repticiamente traços do sistema sociopolítico preexistente. Registou-se uma adaptação face ao novo sistema administrativo e à estrutura da política (vejam-se as listas eleitorais, a composição do parlamento e o funcionamento dos partidos). A diferença está em que os referidos microssistemas autónomos se encontram agora integrados e subordinados no interior do sistema político atual. E, com o acentuar da crise e a secundarização da ética e da autoridade do Estado português, o que podemos observar é uma maior proliferação do papel dos notáveis (incluindo políticos profissionais), da personalização do poder, das fidelidades pessoais e do uso pessoal dos recursos. Em suma, do clientelismo.
Fernando Ruivo