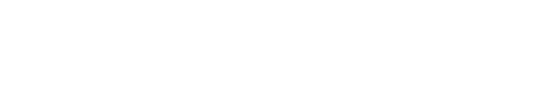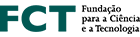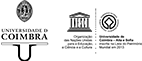A ação coletiva pode constituir-se enquanto modus operandi num processo de conflito, negociação e resolução de situações problemáticas. Emerge da existência de interesses divergentes e visa a transformação de descontentamento ou de reivindicação em atos públicos de natureza coletiva. Traduz-se numa reação organizada face a ameaças concretas, procurando intencionalmente ativar processos de mobilização capazes de transformar uma conjuntura ou as estruturas político-sociais vigentes. Sendo, numa das suas dimensões, parte integrante da morfologia do conflito social, não deve ser entendida como patologia, mas como idiossincrasia racional de coletivos que partilham interesses, objetivos e ideologias comuns. É, nesse sentido, um recurso político de grupos sociais “sem poder” e assenta no direito de intervir na ordem pública.
A anatomia da ação coletiva pode assumir formatos variáveis, desde rituais de manifestação no espaço público (ações de protesto, concentrações ou greves) a formas de intervenção menos diretas (abaixo-assinados, manifestos, etc.), que, na sua evolução, podem conduzir à organização de movimentos sociais consolidados. Enquanto expressão da possibilidade de participação direta dos cidadãos na vida pública e na definição do bem comum constitui-se como uma interpelação a sistemas democráticos rígidos e hierarquizados, que consagram a representação instituída como única forma de governação.
Atualmente, muitas das formas de ação coletiva encontram a sua identidade e mundividência no combate às consequências de políticas neoliberais, suscitando a convergência de estratégias num movimento global, antissistémico, que encontra no Fórum Social Mundial uma das suas traduções mais eloquentes. O conceito resulta, portanto, de uma conjugação de sentidos conciliadores que marcam a polissemia que lhe é subjacente: é um sinónimo de reivindicação, pressão, contestação, questionamento e resistência. Mas é também uma expressão de participação, de afirmação de alternativa e de emancipação.
Ana Raquel Matos