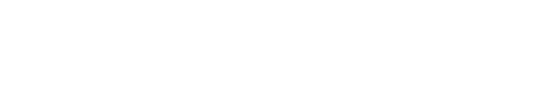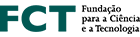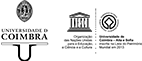(Des)emprego: uma realidade revelada pelo COVID-19
João Ramos de Almeida, Ana Alves da Silva, José Castro Caldas
Vale do Ave, 1998. Na Têxtil Maravilha, uma maquineta produz peúgas a uma velocidade alucinante. Saem aos pares, etiquetadas com marca N&S e o seu preço. O observador estranha o valor elevado e pergunta à empresária: “Y escudos por par de meias?”. A empresária suspira fundo: “Filhos da … “. A empresária não tinha reparado que as etiquetas estavam a sair da máquina em libras esterlinas, num valor dez vezes superior ao por ela faturado à N&S. Lisboa, ano 2000. Na Confiança Seguros, um cliente dirige-se à receção: “Onde é o atendimento ao público?”. “Pode ir ao quarto andar”, responde-lhe a rececionista. No quarto andar, a sala é ampla, mas as secretárias estão todas vazias. Todas à exceção de uma, onde está um funcionário deprimido. “Só cá fiquei eu. Ponha a sua questão pela linha de atendimento ao cliente, se faz favor.” Lisboa outra vez, 2018. O cliente tenta aceder à linha de atendimento ao cliente, por causa de um problema de acesso à internet: “Já lá vai o nosso técnico”. Umas horas depois, toca a campainha: “É da NOZ”. A reparação é feita em segundos. “São todos assim tão eficientes lá na NOZ?”. “Eu não trabalho para a NOZ. Sou da High Tecnorepara. Ou melhor não sou, trabalho para eles”.
Os trabalhadores da Têxtil Maravilha fazem peúgas para N&S que são pagas com tostões e vendidas em todo o mundo por milhões. Não são umas peúgas vulgares, são N&S de alta qualidade, se não o fossem nem sequer seriam vendidas. Para quem trabalham os trabalhadores da Têxtil Maravilha? Quem lhes “dá” emprego? Na Confiança Seguros, o atendedor telefónico fala em nome da companhia, fecha contratos em seu nome, mas na realidade é apenas um trabalhador da Advanced Comunications International que funciona em Oeiras. Ou talvez não. Talvez seja como o técnico da NOZ que, afinal, não é da NOZ nem sequer da firma High Tecnorepara com quem a NOZ tem um contrato (real ou simulado, consigo mesmo), porque, na verdade, é um trabalhador independente ou, o que é praticamente o mesmo, um empresário em nome individual.
Pergunta-se: O que é o emprego? Como Santo Agostinho dizia do tempo, sabemos enquanto não nos perguntam e deixamos de saber quando tentamos responder. Emprego é o nome que se dá à relação de trabalho entre o trabalhador e a entidade para a qual trabalha? Nem pensar. Num número crescente de casos é, antes, o nome que se dá à relação entre o trabalhador e a organização para a qual não se trabalha, ou o nome que não se dá à relação do trabalhador com a organização para a qual, de facto, se trabalha. Estamos a falar de emprego ou do seu contrário? – (des)emprego?
O (des)emprego como problema
Entre 1 de abril e 4 de maio de 2020, cerca 200 mil trabalhadores independentes e membros de órgão estatutários de pequenas e microempresas submeteram, à Segurança Social, pedidos de apoio ao abrigo das medidas extraordinárias adotadas no contexto da crise pandémica. O número é impressionante. Eles não são desempregados, mas são mais de metade dos desempregados registados no IEFP (373 mil a 4 de maio). Não sabemos ao certo que percentagem representam estes 200 mil trabalhadores relativamente ao universo de que fazem parte.
Quem são, quantos estão e onde estão os (des)empregados?
As estatísticas do emprego referem a existência, no 1º Trimestre de 2020, de 130 mil empregados com contratos de prestação de serviços. Nas estatísticas das empresas, também do INE, existem quase 900 mil empresas com zero pessoas ao serviço, isto é, pessoas que são empresas. Algumas delas serão pessoas-empresa que têm outros empregos, possivelmente por conta de outrem. Mas quantas são as pessoas-empresa que não têm outra fonte de rendimento? Quem são, quantos são e onde estão, os (des)empregados? As estatísticas não dão respostas claras. Escondem, e o que revelam são indícios. Sabemos só que, agora, sob o impacto do COVID-19, 200 mil apareceram. São as vítimas mais visíveis, porventura a ponta do iceberg.
Como chegámos aqui?
Karl Marx e Friedrich Engels avisaram no Manifesto do Partido Comunista que o capitalismo não pode existir sem revolucionar constantemente os instrumentos de produção e, por conseguinte, as relações de produção e que, nesse processo, “tudo o que é sólido dissolve-se no ar”. O que eles não podiam imaginar é que a revolução capitalista fosse ao ponto de dissolver o que, a eles próprios, lhes parecia sólido, ao ponto de ser constitutivo do próprio capitalismo – as relações de produção caracterizadas pelo assalariamento e a empresa (seja manufatura, maquinofatura ou outra) como locus dessas relações de assalariamento. Trabalho doméstico distribuído em paisagens rurais e urbanas, escondido dos olhares públicos, seria para eles coisa de um passado pré ou não capitalista.
E, no entanto, desde há muito que os principais engenheiros do capitalismo – os economistas – olham para as relações de assalariamento e para as empresas como uma anomalia. Porque não havemos todos de ser produtores independentes numa sociedade de mercadores? Por que existem empresas? - perguntava Ronald Coase em 1937, atribuindo a explicação a imperfeições, eventualmente redutíveis, do mercado. Depois dele, uma multidão de economistas regressou à pergunta, ao mesmo tempo que, no papel de engenheiros, se dedicavam a conceber formas de reduzir as tais imperfeições do mecanismo de mercado que explicariam a existência da anomalia – a empresa.
O produto dessa engenharia económica ou gestionária foi uma paulatina, mas profunda, transformação das empresas, marcada por uma crescente descoincidência entre forma jurídica (e marca do produto) e o locus de produção. Na década de 1990, a N&S fabricava peúgas no Vale do Ave e distribuía lucros em Londres, onde também se situavam os gestores de topo do negócio. Hoje, a UBER, uma empresa que antes se chamaria de táxis, não é dona de nenhum veículo. Em todo o lado, há pessoal da limpeza que não é da empresa para a qual trabalha, e proliferam os trabalhadores, sem qualquer contrato, que fazem tarefas instantâneas em plataformas digitais.
Andamos à procura de nomes para isto tudo. Cada manifestação surge diferente, embora semelhante no que representa de descoincidência entre o locus da produção e o locus jurídico de apropriação, de distribuição do excedente e do comando. Falamos de gig economy, externalização, redes de subcontratação, cadeias de valor. Redes e cadeias são designações sugestivas no contexto do impacto do COVID-19. Os elos mais fracos dessas redes e cadeias são os que se estão a partir deixando soltos os trabalhadores, ou seja, duplamente desprotegidos de emprego e rendimento, de segurança jurídica na sua relação laboral e de proteção social.
À procura de uma alternativa: Recompor a fratura exposta
Ao expor a debilidade dos vínculos laborais como um problema que se manifesta numa multidão que, de um momento para o outro, fica desprovida de rendimento, a COVID-19 está a dar indicações muito precisas sobre direções de reparação da economia e da sociedade ainda há pouco impensáveis. Todas elas apontam na direção de uma dupla (re)localização: (re)localização da produção no território do consumo e do investimento a diversas escalas;(re) localização do emprego na organização produtiva.
A (re)localização da produção no território do consumo aponta na direção de circuitos de produção mais curtos e processos de (des)especialização em múltiplas escalas (internacional, nacional, regional e local) de que possam emergir ecologias produtivas diversificadas e menos dependentes do exterior.
A (re)localização do emprego na organização produtiva refere-se a processos de internalização do emprego que no plano jurídico e regulatório contrariem o recurso à subcontratação a outras empresas, a falsos trabalhadores independentes ou a trabalhadores ocasionais desvinculados para o cumprimento de funções permanentes da empresa.
Esta dupla (re)localização deve ser articulada com a extensão da proteção social à multidão desprotegida que foi revelada pela crise COVID-19. Mas a extensão da proteção social não pode substituir, nem compensar, a proteção jurídica do emprego.