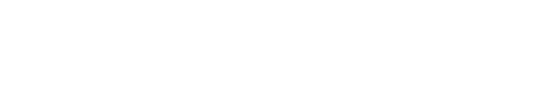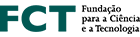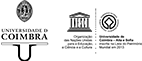As vulnerabilidades macroeconómicas nacionais: uma abordagem monetária moderna
Paulo Coimbra e João Rodrigues
O conceito de vulnerabilidade pode ser aplicado à realidade macroeconómica nacional a partir da constatação de que, sem instrumentos de política económica relevantes nessa escala, furtados pela integração europeia, o país passou a estar mais dependente e exposto a crises. A crise de saúde pública recente, com óbvias e dramáticas declinações macroeconómicas, da quebra do PIB ao aumento do desemprego, é só o mais recente e dramático exemplo. Já nas últimas duas décadas, a combinação de estagnação e de crise, com escassos períodos de tépido crescimento, foi acompanhada de endividamento externo recorde e de níveis de desemprego sem precedentes.
Entretanto, cabe desde logo perguntar: será que desta vez é mesmo diferente? Carmen Reinhart é uma das muitas economistas convencionais que afiançaram que sim, defendendo, no início da crise de saúde pública, o seguinte: “Este é claramente um momento de ‘tudo o que for preciso’ para políticas orçamentais e monetárias fora da caixa e em grande escala”, ou seja, um momento em que os Tesouros Nacionais e os Bancos Centrais têm de garantir, através de estímulos monetários e orçamentais articulados, a despesa necessária para manter e gerar rendimentos (Jornal de Negócios, 28/03/2020). Reinhart foi coautora, em 2010, de um dos estudos que serviram para dar colação pretensamente científica às políticas de austeridade, afiançando que níveis de dívida pública acima de um certo limiar seriam prejudiciais ao crescimento. Estudo este refutado através da detecção de erros estatísticos grosseiros e de erros teóricos com implicações de política. De facto, o estudo ignorava as especificidades de Estados com soberania monetária, ou seja, de Estados endividados na sua moeda, controlando as condições de financiamento, incluindo as taxas de juro da dívida, através de uma articulação entre Tesouro e Banco Central. Por exemplo, o Japão, devido à estagnação prolongada, viu a sua dívida crescer todos os anos, mas as suas taxas de juro são cada vez mais baixas.
O problema: os Estados sem meios
Entre os economistas convencionais, o impensável tornou-se momentaneamente inevitável: antes reduzido a experiências como a do Zimbabwe, o financiamento monetário dos défices orçamentais, a operação através da qual o Banco Central credita o Tesouro, financiando assim despesa sem lastro de dívida, é agora aceite. Realmente, num contexto de incerteza radical, quando o sector privado adia despesa de forma descoordenada, eliminando os correspondentes rendimentos, só o soberano dispõe de instrumentos para dominar as forças agora mais obscuras do tempo, dando confiança e pilotando a economia para fora da crise. A incerteza avoluma-se, todavia, nos Estados que perderam meios para o fazer: Portugal foi colocado na dependência da bondade de estranhos nada generosos, ou seja, na dependência da ação de um banco central estrangeiro chamado Banco Central Europeu, proibido de financiar diretamente o Tesouro nacional, mesmo num contexto em que as constrangedoras e “estúpidas” regras orçamentais europeias tiveram de ser suspensas. O Banco Central Europeu só pode comprar títulos de dívida pública no mercado secundário, gerando, no processo, a subordinação política dos Estados a agentes financeiros privados e o arrecadar de rendas por parte destes. E daí as discussões penosas na Zona Euro sobre arremedos financeiros, destinados a contornar este problema, resultado de um desenho fundacional anti-keynesiano.
A alternativa: soberania monetária e dinâmica orçamental
Tendo em atenção o estado de coisas vigente no campo económico, é caso para dizer que não há nada mais prático do que uma boa teoria. A Teoria Monetária Moderna (Modern Monetary Theory – MMT, em inglês) tem vindo a sair da margem para o centro do debate político. A MMT faz parte da tradição keynesiana, enfatizando precisamente a importância da soberania monetária e a sua imbricação com as dinâmicas orçamentais e de endividamento público e privado. A MMT mobiliza também a análise dos saldos financeiros sectoriais, constatando que numa economia nacional a soma dos saldos do sector público, privado e externo tem sempre de ser igual a zero, num contexto em que o investimento precede a poupança e a criação monetária é endógena, ou seja, fundamentalmente resultado das decisões de concessão de crédito tomadas pelos bancos. Fazer parte da tradição keynesiana significa estar permanentemente atento ao salto mortal que se dá quando se passa da microeconomia para o continente que John Maynard Keynes ajudou a descobrir, a macroeconomia: o todo pode ser mais ou menos do que a soma das partes. Isto significa que um somatório de comportamentos individuais racionais pode originar uma situação irracional. Pense-se no paradoxo da poupança: se todos decidirem poupar ex-ante, porque desconfiam do futuro, as despesas de consumo e de investimento diminuem, o que significa que o rendimento, resultado da despesa, diminui e logo, ex-post, a poupança também.
Este quadro permite uma adequada compreensão da forma como certas decisões de integração europeia vulnerabilizaram o país, dando-nos, simultaneamente, pistas para as necessárias mudanças de política. O único constrangimento que uma economia como a portuguesa deve enfrentar é precisamente de natureza externa, cuidando que não sejam criados défices de balança corrente, gerando dívida externa. Para gerir este constrangimento e para o compatibilizar com o objetivo do pleno emprego, superando assim as vulnerabilidades, toda uma série de instrumentos de política têm de ser controlados pelas autoridades nacionais, na ausência de mudanças implausíveis no quadro europeu. Para tais objetivos, são essenciais uma política cambial adequada, controlos de capitais, uma política comercial seletivamente protecionista, bem como a direção pública do crédito, conferindo-lhe um viés produtivo.
Numa economia monetária de produção, em funcionamento normal e com relativo equilíbrio do sector externo, o Estado tende a incorrer em défices crónicos e o sector privado em simétricos superávites crónicos. É esta situação, aliás, que cria sustentabilidade no sector privado, dada a atenção que neste sector tem de se ter à geração de rendimentos suficientes para assegurar a solvência, o que cria limites ao seu endividamento. Numa economia monetária de produção que esteja nesta situação, enquadrada por um Estado monetariamente soberano, que se endivida na moeda por si controlada, o sector público é diferente do sector privado, não tendo problemas de insolvência, dado que pode sempre pagar as suas dívidas, em última instância através de financiamento monetário. Neste contexto, em que o Estado não depende dos mercados financeiros para o seu financiamento, a componente discricionária da política orçamental pública deve depender do comportamento do sector privado e impedir aí a formação de uma poupança líquida negativa que ponha em causa a solvabilidade das famílias e/ou das empresas.
Contas certas não podem querer então dizer equilíbrio orçamental, o que implicaria saldos financeiros negativos no sector privado e um aumento da sua fragilidade financeira, mas antes um saldo do sector público suficientemente negativo para gerar procura ao nível do pleno emprego e solvabilidade no sector privado. Esse saldo negativo, o défice orçamental, deve ser usado também para induzir uma transformação da estrutura produtiva facilitadora de um equilíbrio externo que não dependa da repressão da procura interna e para aumentar os ativos úteis na economia, tornando-a socialmente mais justa, ambientalmente mais sustentável e tecnologicamente mais capaz, o que obviamente beneficiará as gerações futuras. Se assim não for, ficamos confrontados com a situação atual: por muito que as taxas de juro desçam, por deliberação política, e que o Banco Central Europeu (BCE) tente estimular monetariamente a economia, o sector privado não investe o suficiente, não por falta de crédito da parte dos bancos, mas sim por falta de projetos viáveis num contexto de incerteza. Isto é assim, dada a periclitante evolução da procura agregada, na ausência de uma política orçamental suficientemente expansionista e estruturada, que possibilite a orientação e o estímulo do sector privado através do consumo e do investimento públicos.
Hoje não há mesmo alternativa a assumir com realismo as nossas vulnerabilidades macroeconómicas e resgatar com determinação os meios de as debelar. Ou melhor, há alternativas, mas são as da idade das trevas do pensamento económico com efeitos bárbaros.