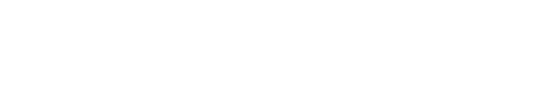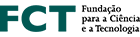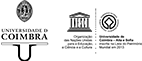Como reorganizar um país vulnerável?
José Reis
O trabalho que agora aqui se apresenta iniciou-se há mais de um ano. Foi num tempo em que já se tinha tornado muito intensa a ideia de que Portugal estava a acumular vulnerabilidades, em diferentes e variados planos. Este tempo foi subitamente convulsionado da forma radical e dramática que todos conhecemos. E isso obrigou-nos a ir muito para além do ponto onde estávamos, preocupando-nos mais ainda.
Tínhamos então por finalidade publicar um livro com o título Vulnerabilidades: retratos do país frágil. A hipótese sobre que trabalhávamos era que as vulnerabilidades são geradas ou induzidas por processos institucionais e políticos, isto é, por deliberações e formas de organização que juntaram novas fragilidades à condição necessariamente incerta e contingente da vida individual e coletiva. Portugal via fragilizadas e diminuídas as suas capacidades de criação de bem-estar, de geração de emprego, de organização equilibrada do território, de inclusão social e de robustecimento do aparelho produtivo e de exercício da ação pública, dadas as condicionalidades e os limites que impendem sobre o Estado e as políticas públicas.
Razões para o trabalho que estávamos a desenvolver não faltavam: a austeridade tinha aprofundado dramaticamente os processos de desvalorização interna, especialmente do trabalho e da capacidade produtiva, a inserção europeia tem-nos constrangido e deprimido, dado o poder e a ortodoxia egoísta dos países centrais, os mercados financeiros, depois de terem sido deixados a atuar livremente, submeteram-nos aos seus poderes e, enfim, um modelo de crescimento unipolar, centrado na metrópole lisboeta, deslaçou o país, abandonou o território, incluindo as cidades médias, e incentivou as lógicas low cost e as imobiliárias.
Contudo, o imprevisto e o radicalmente novo alterou tudo e recolocou estas vulnerabilidades num novo e mais complexo patamar. Os capitalismos – incluindo o nosso – confrontaram-se com a originalidade da paragem, com o perigo das mobilidades e das transações desenfreadas, com a necessidade do confinamento e da prioridade à vida. Além disso, ficaram demonstrados riscos poderosos. Contam-se entre eles os que resultam das restrições sobre as políticas públicas, da desindustrialização, da perda de poder sobre decisões coletivas essenciais, das chamadas “cadeias de valor global” que subitamente colapsam, inviabilizando atividades que podiam continuar a laborar, da concentração espacial da população, das atividades de rentabilização fácil... O que restava do que melhor ainda dispomos ganhou, entretanto, uma centralidade e uma legitimação inesperadas, mas óbvias: serviço nacional de saúde, ciência, Estado, administração pública e ação pública, soberanias, capacidades produtivas próximas, solidariedades, enfim, uma economia do cuidado (cuidadosa e prudente) que não pareceria possível de valorizar tão fortemente perante os desregramentos que se tinham imposto nas nossas vidas. Tudo aquilo, afinal, que constituía o programa referencial dos que encaram criticamente e se opõem à financeirização e à mercadorização das economias e das sociedades, à privatização das relações essenciais, à redução ou à instrumentalização da deliberação política e da democracia.
Ao mesmo tempo, a linguagem perdeu restrições que a limitavam e a liberdade e o debate tornou-se mais necessário, com uma amplitude que não conhecíamos, dado o poder de que as “sabedorias convencionais” dispunham: passou a ser corrente falar do papel essencial do Estado e da ação pública, de soberania material e política, de prioridade a uma certa autossuficiência dos espaços económicos, de subordinação da finança e dos bancos à deliberação política, de novas formas de financiamento de sociedades tornadas deficitárias, de desglobalização e de reindustrialização, de regresso ao território, de barreiras à privatização do bem-estar atual e futuro... O que resta saber é quão transitório tudo isto é e que outros poderes e outras urgências se virão sobrepor ao que o bom senso parece exigir. Importa, por isso, mapear alternativas e aprofundar o estudo.
O livro que vamos publicar até ao fim deste ano será composto pelos quinze capítulos que aqui se apresentam em pequenos textos de três páginas, uma espécie de “protótipo” do resultado final. Nestes textos, o registo é simples: identificar um problema e propor uma alternativa. Abrir debates. Há, evidentemente, um norte: reorganizar um país atravessado por muitas e diversas vulnerabilidades e fazer isso superando dependências, corrigindo desequilíbrios, combatendo desigualdades. E dar um lugar sólido à ação pública, ao papel do Estado, ao planeamento e ao que é mais sólido na sociedade.
Pode começar-se pela macroeconomia, como se faz no texto de Ana Cordeiro Santos, isto é, pela forma como o Estado, que devia ser um poder soberano, foi sujeito a um processo intenso de financeirização e colocado na dependência dos mercados cujo papel devia determinar e limitar. Em vista das vulnerabilidades sociais assim tornadas crescentes, a questão da desfinanceirização do Estado tem de ser encarada, para que os interesses gerais, os das comunidades, não sejam coartados pelos interesses financeiros. É isso que, ainda no plano da macroeconomia, levam Paulo Coimbra e João Rodrigues a aprofundar a discussão sobre o que levou a Estados sem meios e o Tesouro a ser uma entidade cujo financiamento tem de ser feito nos mercados, propondo, em alternativa, capacidade para exercer soberania monetária e poder para deliberar sobre as dinâmicas orçamentais de que a sociedade possa carecer. Há uma lógica profunda no que se tem passado, a que produz custos sociais e minimiza as respostas públicas, como se defende, em geral, na reflexão de Vítor Neves, ao mesmo tempo que Maria Clara Murteira analisa com detalhe o que, nesse sentido, se passa com a provisão pública de provisão pública de rendimento na reforma. Mas o mesmo se pode passar, como salienta Pedro Hespanha, com as instituições sociais básicas atingidas por circunstâncias adversas, o que nos obriga a dar também prioridade à interdependência social e a uma economia popular que tão importante é para superar vulnerabilidades. Num país marcado pelas desigualdades no trabalho, no rendimento e nas famílias e, portanto, na economia, na sociedade e no território é preciso contrapor um esforço coletivo para as superar. Sabendo que todas elas derivam da desigualdade do rendimento básico, Lina Coelho propõe um esforço coletivo assente nas vantagens da equidade, sabendo-se que isso é uma decisão de economia política. Há dimensões cuja relevância foi sempre enorme e que está hoje revalorizada. É o caso do Serviço Nacional de Saúde. João Arriscado Nunes e Mauro Serapioni sugerem não apenas um reforço do SNS, mas também uma nova centralidade para a saúde pública, promovendo a saúde como direito e política. A perspetiva multiescalar em que nos colocamos leva-nos, enfim, à família e à sua organização interna: Ana Paula Relvas e Gabriela Fonseca tratam, nesse contexto, da diferenciação dos jovens adultos e da sua autonomização, mostrando como a pandemia pode interferir neste processo, exigindo-se um reforço da solidariedade comunitária e familiar intergeracional.
Um país é um território: à escala real de 1:1 e a três dimensões. Para retomar uma citação famosa de Jorge Luís Borges, esse não pode ser considerado um “mapa exagerado e (...) inútil e não sem impiedade [deixado] debaixo do sol e dos invernos”. Num país como o nosso há, digamos, metrópoles, assim como há outras cidades, há campos e aldeias. Isso é muito mais importante do que a distinção litoral/interior de uso recorrente à medida que foi ficando desprovida de sentido. Por isso, para lá do que eu próprio discuto sobre a demasiado desequilibrada evolução territorial que nos levou a um modelo unipolar, José António Bandeirinha fala de uma rede urbana tornada frágil por um mapa artificializado e das polaridades que é preciso recriar no território, de uma forma que restabeleça densidades. Ana Drago, por sua vez, mostra como, na metrópole lisboeta se concretizam estratégias de acumulação em que predominam mecanismos como o da especulação imobiliária e o da gentrificação, rentabilizando a cidade e fragilizando-a à medida que o seu modelo revela precaridades significativas, prejudicando-se a si própria e ao país. Por isso, tomando Lisboa como caso, se propõem políticas urbanas que qualifiquem a metrópole e a vida que lá há, sabendo a amplitude das assimetrias criadas.
Voltando à economia, João Ramos de Almeida, Ana Alves da Silva e José Maria Castro Caldas centram os seus textos no modo como se foi organizando a produção industrial e a prestação serviços fragmentando o emprego e dando à empresa um significado inusitado que se sobrepôs àquilo que julgávamos que ela era, um lugar de produção e de relações sociais e técnicas. Trata-se agora de recompor a fratura exposta da fragilização dos vínculos laborais e produtivos. Quer dizer, superar uma especialização que não apenas é débil pelo valor que cria como o é pela inserção em circuitos internacionais vulneráveis e que nos fragilizam, aconteça isso lentamente ou de forma abrupta. O Green New Deal verdadeiramente transformador proposto no texto de Ricardo Coelho interessa tanto ao território quanto à economia, dado que trata de justiça social e sustentabilidade ambiental e da promoção de um tipo de emprego mais qualificado e mais qualificante.
Macroeconomia e organização económica, políticas públicas, trabalho, emprego e produção, territórios urbanos, ambiente, famílias, interdependências sociais e desigualdades – estas podiam ser as palavras-chave deste livro para com elas estudarmos vulnerabilidades a que não podemos deixar de dar atenção. Mas interessamo-nos também pelas alternativas. E elas ficam aqui propostas em todos os domínios. A incerteza radical que nos rodeia é o convite mais forte para que discutamos e olhemos para o essencial, sabendo que não pode ser nas velhas racionalidades nem nas velhas restrições que encontramos os termos da discussão. É a vida que se nos impõe como maior valor. Tanto as vidas individuais como a vida que tem de orientar a nossa reorganização coletiva, na economia, na sociedade, no espaço público e político. O “processo da vida”, que um sábio antigo usava para definir o objeto da sua disciplina, deve ser hoje o mote para tudo.