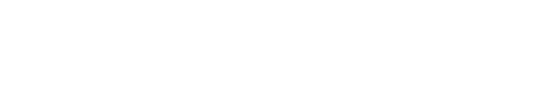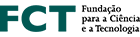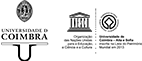A vulnerabilidade das instituições sociais básicas: o problema e as alternativas
Pedro Hespanha
A vida em sociedade funciona, em boa medida, através de um conjunto numeroso e diverso de sistemas de práticas sociais e de padrões de comportamento que se foram dotando de relativa estabilidade e aceitação social e que se institucionalizaram. Ganhando legitimidade simbólica e normativa, graças à sua capacidade de dar resposta a necessidades sociais amplamente sentidas e de assegurar uma conjuntura de normalidade, estas instituições sociais cobrem praticamente todos os domínios da existência humana.
Apesar do seu caráter aparentemente duradouro, as instituições sociais sofrem o impacto de circunstâncias adversas de diversa natureza e estão permanentemente em luta pela sobrevivência. Algumas dessas circunstâncias podem abalar mais profundamente a base das instituições sociais - mesmo as mais sólidas - como aconteceu com advento da modernidade em que muitas delas, vindas do passado, soçobraram; em outros casos, elas conseguiram manter-se, eventualmente alterando em parte a sua configuração. As crises, contudo, independentemente da sua natureza ou duração, ameaçam quase sempre as instituições sociais, fazendo colapsar algumas e surgir outras de novo, em sua substituição.
Ainda mal recuperada de uma profunda crise económica e social no início da década passada resultante da adoção de políticas ineficazes de austeridade para debelar uma crise financeira, a sociedade portuguesa é novamente surpreendida por uma crise de natureza diversa, mas igualmente profunda - a pandemia COVID 19. A crise pandémica é uma crise especial e muito insidiosa. Ela combina fatores biológicos com fatores sociais, de um modo tal que os fatores biológicos se tornam mais aparentes e mais urgentes e, por esse facto, tendem a ocultar os fatores sociais que condicionam a propagação do vírus. Por isso, é corrente ouvir-se que a pandemia é democrática, ou seja, que ela atinge a todos. Mas não é bem assim: a probabilidade de se morrer de COVID ou de ficar com lesões orgânicas graves é bem maior para quem não tem recursos para se defender dela.
O problema
A crise pandémica, ao alterar, inesperadamente, os nossos modos de vida, deixou bem visíveis as fragilidades das instituições em que confiávamos e fez-nos mergulhar na maior incerteza acerca do futuro. A gravidade do surto do novo coronavírus nos locais onde primeiro ocorreu, tornou credível a argumentação científica e os conselhos das autoridades de saúde à população portuguesa que levaram à aceitação sem grande oposição das medidas de distanciamento social, de confinamento e quarentena. Foram estas medidas que determinaram as tão profundas quanto rápidas mudanças nos nossos comportamentos e nas nossas instituições sociais. Num primeiro tempo, a prioridade foi toda para a saúde, numa política de contenção do surto epidémico para salvar vidas. Mas, pouco tempo depois, surge um outro foco de preocupação, agora com a economia, praticamente paralisada pela política de confinamento. Apesar de haver hoje uma tendência para certas forças radicalizarem a dicotomização da crise, as políticas de contenção devem manter-se até ser encontrada uma forma eficaz de prevenir e tratar a pandemia.
Porém, o que mais nos fez abrir os olhos e pensar na irracionalidade do mundo em que vivemos foi aquela imagem das frotas de aviões paralisadas nos aeroportos; dos centros das cidades, mas também dos shopping centers, dos estádios de futebol e dos meios de transporte, completamente vazios; da atmosfera despoluída das cidades industriais durante os períodos de confinamento; ou a constatação de que a produção de bens essenciais, afinal, se concentra num número muito reduzido de países e que o acesso a esses bens pode ser restringido por quem os produz em situações monopolistas.
Por arrasto, ideias que se foram materializando e tornando consensuais ao longo do tempo, agora parecem-nos algo insensatas: concentrar os idosos em lares, os delinquentes em cadeias, os pobres em bairros sociais, os consumidores em centros comerciais, as crianças em escolas, creches e infantários, as famílias em torres habitação. Nestas ideias e nas instituições em que estas se materializaram, prevalece sempre uma mesma lógica: massificar, institucionalizar e assentar para aumentar a escala. E, por mais estranho que nos pareça, essas ideias já foram arduamente criticadas no passado – quase há meio século - por autores como Adorno, Lefebvre, Bourdieu e Passeron, Illich, Goffman, Schumacher.
Quase todos reconhecem que a economia poderá voltar a funcionar, mas não será a mesma. Para alguns, a economia do período pós-Covid será mais frágil, será menos inovadora; e será mais injusta devido à impossibilidade de se garantirem doravante as mesmas condições para uma globalização ilimitada do capital. Mas dizer isto, é dizer pouco. Apesar da incerteza, existem razões para acreditar que muito pode ser mudado e num bom sentido, agora que estão patentes as fragilidades do sistema económico e social em que vivemos. Para outros, a crise tende a ser o ingrediente vital para desencadear uma metamorfose generalizada e de longo alcance.
Por isso, há que valorizar o potencial de mudança emancipadora das respostas solidárias populares e das outras economias cuja racionalidade assenta na melhoria da vida das pessoas.
As alternativas
Se algo de positivo se pode assacar à crise pandémica, porventura será o facto ela ter alargado a consciência de que, nas sociedades atuais, cada um de nós depende fundamentalmente do comportamento dos outros e de que, só por si, ninguém pode evitar os riscos de contágio. É esta consciência da interdependência social, - associada à notória incapacidade de as instituições sociais responderem plenamente às necessidades urgentes e vitais da sociedade e, em particular, dos grupos sociais mais vulneráveis -, que dá origem a inúmeras manifestações de solidariedade extremamente importantes para lidar com os riscos associados à pandemia. Na verdade, essas manifestações permitiram, desde logo: consensualizar (ou seja, tornar aceitáveis) as regras de conduta que limitam a nossa autonomia pessoal, tal como o confinamento ao espaço fechado da casa (uma espécie de “biopoder democrático”), mobilizar esforços e recursos para atender às necessidades básicas (ex.: na recolha de mantimentos, no fornecimento de refeições para populações em risco, no fabrico de máscaras para os vizinhos, etc.), intensificar, numa lógica de reciprocidade, a atenção e os cuidados para aqueles que mais sofrem (ex.: através de serviços pessoais e domésticos feitos sem qualquer remuneração), revitalizar antigas formas de ação coletiva, baseadas na confiança e na solidariedade entre iguais, para responder às novas exigências (ex.: hortas coletivas, circuitos curtos de comercialização entre consumidores urbanos e pequenos agricultores familiares) e inventar novas formas de compromisso social para melhorar o bem-estar das comunidades (ex. através de campanhas de angariação de fundos, de grupos de entreajuda, etc.).
Se, em muitos casos, já existia uma infraestrutura de resposta enraizada em experiências anteriores de luta (movimentos sociais autónomos e redes informais de solidariedade, assembleias de moradores ou de outras organizações de bairro), frequentemente a resposta surgiu espontaneamente entre vizinhos, amigos e parentes, numa solidariedade de vizinhança, a que aqui no Centro de Estudos Sociais temos associado o conceito de sociedade-providência.
Em parte, estas alternativas mais não são do que manifestações de uma economia popular que foi resistindo aos processos de proletarização e de competição mercantil, em parte elas radicam numa economia comunitária que o individualismo possessivo da modernidade se encarregou de eclipsar e, em parte, elas constituem um sábio arranjo de formas diversas de produzir, trocar e consumir que permitem viver melhor com os outros e com a natureza. Muitos de nós designamos essa realidade como economia solidária, mas estamos conscientes de que mais importante do que a designação – o nome que lhe damos – é a coisa em si – uma outra economia mais justa e mais fraterna. Assumindo configurações diferentes à escala mundial, a economia solidária apresenta um traço comum a todas essas configurações: uma dimensão transformadora e pós-capitalista.
Uma questão pertinente é a de saber se, numa crise como esta que, para ser debelada, exige um distanciamento entre as pessoas, não fica diminuída a operacionalidade de respostas que assentem precisamente na deliberação e gestão coletivas e na partilha de recursos.Cremos que não, por duas razões principais: primeira, porque o distanciamento que se impõe é físico e não social; segunda, porque os meios de comunicação à distância que hoje existem estão acessíveis praticamente a toda a gente.
O objetivo a que este ensaio procura dar uma primeira resposta é duplo: mapear os espaços e os modos de satisfação de necessidades sociais prementes e identificar e avaliar o impacto das respostas que deles estão a surgir para compensar o colapso das instituições sociais (sejam elas, serviços públicos, procedimentos usuais, facilidades de vida, rotinas quotidianas). Importa, por isso, identificar de onde partem as respostas e conhecer os diferentes aspetos que permitem avaliar a sua eficácia: o modo como as respostas surgem, a sua condição mais ou menos formal e organizada, a filosofia individualista, particularista ou solidária que as inspira, o tipo de solidariedade de que se alimentam (para simplificar: paternalista ou democrática, vertical ou horizontal), o âmbito de ação mais ou menos alargado e integrado, a consistência e durabilidade dessas respostas, o seu caráter inovador e transformador, o reconhecimento institucional das respostas.