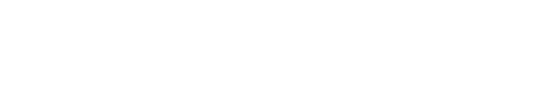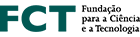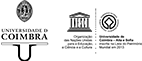Desigualdades na distribuição do rendimento, no trabalho e nas famílias
Lina Coelho
1. O problema: as desigualdades
Somos um país desigual. Na economia, na sociedade, no território. A desigualdade fragiliza-nos: impede a coesão, limita a competitividade, estrangula a prosperidade, inviabiliza a sustentabilidade, ameaça a democracia. E a redução das desigualdades tem se processado a ritmo lento e com avanços e recuos. Por exemplo, o Inquérito à Situação Financeira das Famílias de 2017 veio revelar que o ratio entre a riqueza líquida (ativos reais+ativos financeiros-dívida) da família correspondente ao percentil 90 e a riqueza líquida da família correspondente ao percentil 10 aumentou de 197,9 para 365,3, entre 2010 e 2017.
Em 2018, Portugal era o 7º país com maior desigualdade na distribuição de rendimento na Zona Euro, medida quer pelo índice de Gini, quer pelo quociente do rendimento médio entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres. A taxa de risco de pobreza era 17,2%, maior abaixo dos 18 anos (18,5%) e acima dos 65 (17,3%). Que um país com uma grave crise demográfica se permita uma taxa de pobreza infantil com esta dimensão é, certamente, incongruente. E decorre dos padrões de distribuição de rendimento pelas famílias. De facto, a pobreza afeta mais as famílias com crianças do que as famílias sem crianças (18,3% e 16,2%, respetivamente), especialmente famílias monoparentais (33,9%), casais com 3 crianças ou mais (30,2%) e outros agregados familiares com crianças (23,6%). Acima da média estão também as famílias unipessoais (26,2%). E eis que assoma outra faceta das desigualdades: as mulheres têm expressão desproporcional nas famílias pobres. São cerca de 90% nas famílias monoparentais e uma clara maioria nos adultos sós, nomeadamente idosos.
A desigualdade deriva fundamentalmente do chamado rendimento básico (do trabalho e do capital), sendo a taxa de pobreza antes da função redistributiva do Estado, i.e. excluindo pensões e outras transferências sociais, de 43,4%. E o Estado português é relativamente ineficaz na sua atenuação. Em 2014, 42% das transferências sociais destinavam-se às famílias do quintil mais elevado de rendimento e apenas 9% às do quintil mais baixo, num padrão justificado pela natureza predominantemente contributiva das transferências sociais.
A relação com o mercado de trabalho é decisiva: só 10,8% dos trabalhadores e 15,2% dos reformados eram pobres, em 2018, contra 47,5% dos desempregados e 31% dos outros inativos. Mas a desigualdade salarial é, em si mesma, muito elevada. Os estudos mostram que o reduzido nível médio de escolarização da população portuguesa (um dos mais baixos na OCDE) determina fortemente a desigualdade salarial na medida em que a escassez de qualificações suscitou um elevado prémio salarial associado à educação superior, sustentando um crescimento dos salários mais altos significativamente superior ao dos salários mais baixos, até período recente. Neste contexto, é muito preocupante o aumento da parcela de jovens adultos que não trabalham nem estudam: entre 2008 e 2018 passou de 13,5% para 16,8% na faixa etária 20-24 anos. Também de realçar o muito menor sucesso escolar dos rapazes relativamente às raparigas.
Pensar hoje as desigualdades obriga, pois, a uma especial atenção aos jovens. Sendo eles/as o futuro, é sobretudo para eles/as que o futuro surge ameaçador. A evolução da especialização produtiva e do mercado de trabalho conduziu a uma desvalorização salarial das qualificações e ao aumento do trabalho precário e sem direitos para os ativos mais jovens (a geração mais qualificada de sempre), na última década. A distribuição da riqueza é elucidativa: as famílias abaixo de 35 anos tinham, em 2017, uma riqueza líquida 57% inferior ao mesmo grupo em 2010. Ou seja: o empobrecimento relativo dos jovens, consolidado na última crise económica, não foi, entretanto, superado. Se falamos de vulnerabilidades, eis-nos aqui num ponto chave: as perspetivas ameaçadoras que impendem sobre a população jovem.
Outra faceta das desigualdades que merece atenção respeita aos respetivos padrões de género. É também na desigual relação que homens e mulheres mantêm com a atividade remunerada que ela se fundamenta. As mulheres detêm parcelas menores da riqueza e recebem salário médio inferior aos homens. Em 2018, esta diferença atingiu 16,2% (14,8% na UE-28), após evolução dececionante (e em contracorrente) expressa no aumento de 8,5%, em 2007, para 17,8%, em 2015, ano em que atingiu um pico. Evolução tanto mais surpreendente quanto as mulheres apresentam melhores resultados escolares e muito maiores taxas de educação superior do que os homens há mais de 4 décadas e o país evidencia, como já referido, elevado prémio salarial para a educação superior. Na verdade, quanto maior o nível de educação, maior o hiato salarial de género. Menores rendimentos durante a vida ativa implicam pensões de reforma também inferiores às dos homens (-32% e -36%, respetivamente, em Portugal e na UE-28, em 2017). A evidência é clara: as mulheres são penalizadas por maior precariedade, maior incidência de trabalho a tempo parcial, carreiras contributivas menores, profissões e atividades mais mal remuneradas. A dedicação das mulheres à carreira é limitada pelos papéis sociais de género que sobre elas fazem recair desproporcionalmente o trabalho doméstico e de cuidado não pago. Não que elas trabalhem menos: os dados disponíveis (2015) apontam para tempos médios semanais de trabalho de 60h para mulheres e 48h para homens, nos quais cabiam 23h de trabalho não remunerado das mulheres e apenas 9h dos homens. Ou seja, uma das maiores diferenças na UE-28, apesar de a taxa de emprego a tempo integral das mulheres portuguesas também ser das maiores a nível europeu. Por outro lado, a evidência mostra uma pronunciada segregação vertical (níveis hierárquicos) e horizontal (profissões/atividades) entre mulheres e homens, com estes a ocuparem predominantemente lugares de liderança de topo e profissões industriais e técnicas, mais bem pagos, e aquelas em lugares de execução ou enquadramento de médio e baixo nível e profissões de cuidado (saúde, educação, pessoas dependentes, limpezas, etc.) e de atendimento a clientes, mais mal pagos, em média. As perdas de produtividade e rendimento por efeito da violência doméstica endémica são também um fator a ter em conta: em 2019, ela resultou em 36 assassinatos e originou 62 queixas diárias às forças de segurança. Em 80% destas situações as vítimas eram do sexo feminino.
2. A alternativa: um esforço coletivo assente nas vantagens da equidade
A redução sustentada das desigualdades não resultará do funcionamento espontâneo da economia de mercado globalizada. É um processo exigente, que requer esforço coletivo, assente na consciencialização das vantagens da equidade. É, em si mesmo, um projeto político, em que a economia é posta no único lugar que é o seu: o de suportar a melhoria generalizada do bem-estar, garantindo provisão de necessidades e criando condições para que todas as pessoas, independentemente de sexo, raça ou origem social e familiar, possam atingir o seu potencial de realização humana.
Minorar desigualdades significa recolocar o cuidado no centro da vida, reconhecendo às atividades de reprodução social a sua indispensabilidade e assumindo a preservação dos ecossistemas naturais. Supõe uma economia sustentada e sustentável, onde diferentes escalas de produção se articulam e complementam, sem se anularem, criando oportunidades de emprego com direitos. Exige a valorização dos territórios e das comunidades locais, economias de proximidade, aposta na economia circular, evitando desperdício e minorando a pegada ecológica.
Construir oportunidades iguais implica assumir a centralidade do trabalho não remunerado na provisão de bem-estar, atribuir-lhe o valor que lhe tem sido sonegado, socializar/coletivizar os custos do cuidado às pessoas dependentes (crianças, idosos, deficientes e doentes). Requer uma escola inclusiva, atenta às diferentes condições de partida e acolhedora das diferenças sociais e das capacidades e dificuldades diversas que nos fazem humanos, uma escola capaz de quebrar o ciclo da reprodução intergeracional das desigualdades.
Exige, pois, um Estado social robusto, dotado de capacidade de resposta qualificada e igual para todos.
Um Estado que cuida de todos é um Estado que assume a redistribuição como tarefa fundamental e assegura mínimos de subsistência dignos. Porque reconhece a vulnerabilidade e a fragilidade das vidas humanas e não admite a remissão para a sub-humanidade, a indignidade ou a transação dos corpos humanos como condições de sobrevivência. Porque assume que todos somos um só, na nossa igual sujeição à precariedade da condição humana.
Uma economia do cuidado, solidária, humanista e feminista, assenta na partilha consciente dos recursos e na redistribuição equilibrada dos rendimentos, também (e principalmente) entre capital e trabalho. Premeia a inventividade e a iniciativa empreendedora mas não pactua com a concorrência sem regras, com o apetite voraz do capitalismo financeiro sem rosto que concentra a riqueza e a subtrai ao bem estar comum, corrompendo o sistema e submetendo os Estados a uma escalada suicidária de redução das taxas de tributação do capital que conduz a bases tributárias cada vez mais estreitas e a um círculo vicioso de subfinanciamento e endividamento forçado. Para um pequeno país comunitário, com frágil estrutura produtiva, como Portugal, enfrentar esta ameaça significa encontrar alianças estratégicas supranacionais para a superação das perversidades do atual estado das coisas. Supõe efetiva solidariedade europeia, incluindo a adoção de um princípio de lealdade na concorrência tributária (a exemplo do princípio da lealdade da concorrência entre operadores privados, previsto nos tratados), a supressão de territórios de exceção – os famigerados paraísos fiscais – e a erradicação de práticas instituídas de evasão fiscal (eufemisticamente rebatizadas como ‘planeamento fiscal’). O sucesso nestas áreas constitui condição de possibilidade para um futuro em que as novas gerações possam acreditar.