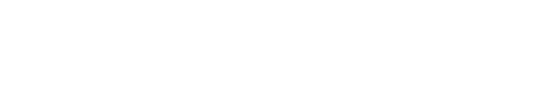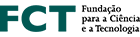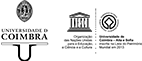CIDADES E REDE URBANA
José António Bandeirinha
O PROBLEMA
Portugal. Um território carente de coesão, cuja organização provoca desigualdade
Frágil é, sem dúvida, a rede urbana portuguesa. As razões, embora conhecidas, são sempre muito mal explicadas. Referir-se-ão as mais próximas e, por isso mesmo, mais evidentes.
É sabido que a ideologia do Estado Novo se fundou sobre raízes românticas e integralistas que decorriam do Século XIX. Mas os seus aforismos morais anti-urbanos, o uso da glorificação da ruralidade para melhor controlar as populações, a insistência sobre uma alegada pureza e genuinidade das gentes do campo e das aldeias, alegadamente matriciais para a construção da identidade portuguesa, por dominantes que foram durante metade do século passado, constituíram-se como ideias decisivas para o definhamento da maioria das cidades. Pelo menos tanto quanto o coevo centralismo político-administrativo se constituiu como decisivo para o desenvolvimento urbano quase exclusivo da capital.
Do ponto de vista político, como se tentou colmatar essa debilidade? Criando um mapa, artificial como todos os mapas, onde tudo parecia equilibrado, quer do ponto de vista territorial quer do ponto de vista administrativo. Esse mapa dividia-se em províncias, distritos, concelhos e freguesias. As duas primeiras divisões tenderiam a ser polarizadas por cidades. Depois da reforma administrativa de 1957, a primeira dessas unidades territoriais, a província, foi extinta e a polarização urbana ficou-se apenas pelos distritos, eles próprios extintos mais tarde já na fase ultra-liberal da Democracia.
O hiper-crescimento da capital ao longo da década de 1960 extravasou desordenadamente para os concelhos vizinhos. Quando, já no último quartel do Século, chega a Democracia, a possibilidade de criar uma rede urbana equilibrada já nem sequer era uma miragem, pura e simplesmente não existia como assunto nem como motivação. A necessidade de reagir, quase por antinomia, ao atavismo económico da ditadura, por um lado, e o paradigma ideológico neoliberal como medida terapêutica para a depressão económica global, por outro, levaram ao isolamento e ostracização das raras tentativas de estabelecer um plano de equilíbrio e coesão para o território nacional.
A estrutura do Poder Local, entretanto democraticamente instituído, reforçava politicamente os concelhos como célula territorial mais importante, todos aparentemente em pé de igualdade. Subdividir para reinar.
Planeamento territorial era uma expressão proscrita do léxico liberal, mas os fundos de coesão começavam a chegar. Os planos — PDMs — foram definidos para cada um dos concelhos. No entanto, as infraestruturas de comunicação mais importantes em escala, alcance e investimento eram as transconcelhias, ou as de âmbito territorial mais vasto, e essas foram sendo decididas exclusivamente em função da relação da capital com o mundo e com a segunda cidade que, entretanto, tinha alcançado também uma dimensão metropolitana. Começou assim, e inevitavelmente, a gerar-se um eixo hegemónico, estruturador da polarização que, até hoje, tem vindo a dominar uma parcela muito significativa do investimento público e privado.
Entretanto, e a propósito, algumas frentes do pensamento sobre o território começaram aqui a imaginar uma metrópole linear, o já célebre eixo Setúbal – Braga, o qual, para ter viabilidade e representatividade urbana global, necessitava de que o país investisse o que tem e o que não tem em infraestruturas energéticas e de comunicações territoriais. Acresce que esse investimento só teria sentido se fosse para servir o dobro da população actualmente existente em todo o país.
Pergunta-se, poderia ter sido, ou poderia ser, de outro modo?
Claro que podia, e não é preciso inventar muito, basta observar exemplos de outros territórios europeus muito próximos, que prezam mais que nós esta ideia de cidade polarizadora como alternativa, alternativa em co-existência, entenda-se, à metrópole esmagadora e exclusivista.
Desde logo a Espanha ou a Itália , as suas respectivas culturas urbanas não florescem só pela maneira de ser dos seus urbanitas. As cidades, mesmo as mais pequenas continuam também a ser centros político-administrativos dinâmicos e representativos, quer as capitais de província, quer as capitais de região. A rede ferroviária e de autoestradas em Espanha liga as principais metrópoles, sem dúvida, mas estrutura-se a partir da ligação entre as capitais de província, o que é muito, muito diferente. Ou a Suíça, em que as capitais dos mais pequenos cantões, pese embora o sistema minimalista da democracia representativa helvética, são verdadeiras mini-capitais onde os canais de representação do estado federado estão presentes e actuantes, dos office cantonal aos estúdios de televisão pública. Mesmo a célebre utopia metropolitana circular neerlandesa — o Randstad — liga capitalidades intermédias, não é um eixo entre metrópoles com ramais para as cidades.
A verdade, e esse é o centro do problema hoje, é que a ideia de uma metropolização exclusivista domina o pensamento das elites lusitanas e, por antinomia, gera a ideia mítica de um Interior, essa entidade sem forma, vagamente romântica no inverno, inequivocamente satânica no Verão, que corresponde a tudo o que não seja identificado com as metrópoles. Esse Interior só existe porque não tem nenhuma rede urbana de proximidade que possa polarizar, constituir, dar forma, identidade e significado ao seu território.
A ALTERNATIVA
Uma rede urbana forte e alternativa, territorialmente polarizadora, que interpele e complemente as dinâmicas metropolitanas: uma Política de Cidades
Podemos legitimamente perguntar — não existindo actividade económica intensa que justifique o crescimento gradual em direcção a uma escala mais sustentável, como é que a polarização político-administrativa pode ajudar?
Muito se tem falado na agonia das aldeias do interior, mas ninguém refere que, em parte, essa agonia se deve à profunda decadência das cidades, pequenas ou médias que outrora polarizavam o território onde elas se inseriam. As grandes empresas participadas pelo Estado, portanto por todos nós, abandonaram as suas delegações regionais ao longo das últimas décadas para investir exclusivamente nas metrópoles, e não só em sedes corporativas, mas também em centros culturais, em salas de espectáculo, em eventos diversos que as fundações que tutelam organizam regularmente. Começar por repor algumas dessas delegações, por modestas que fossem, nessa rede de cidades médias já era uma ajuda.
Mas, na contemporaneidade, a decadência da cidade não se justifica só com o poder de absorção da metrópole, é uma decadência de índole económica sim, mas é sobretudo uma decadência do seu significado político, da sua representatividade política. Ora, actualmente e no caso português, essa representatividade joga-se exclusivamente na escala concelhia. Mesmo a representatividade dos círculos eleitorais distritais é de certo modo abstracta, é meramente consuetudinária uma vez que os distritos já nem sequer existem.
Sim, o território nacional, para que possa assumir um significado mais consentâneo com o seu real valor social, cultural e mesmo económico, tem que ser polarizado pela ideia de pertença a uma célula territorial mais próxima e mais significativa que a capital do país, por um lado, e que o concelho, por outro. Tem que ser polarizado pela pertença ao território capitalizado (aqui em ambos os sentidos) pela cidade A, ou B, ou C. É diferente nós referirmo-nos à belíssima paisagem das Fisgas de Ermelo, no Interior do País, ou à belíssima paisagem das Fisgas de Ermelo no território/distrito/ província de Vila Real.
Segunda pergunta, mais difícil de responder, é — como vamos nós identificar essas capitalidades? Quais as ditas cidades médias que podem cumprir esse papel? Qual o executivo que se arrisca a fazer um tal plano? Só vai colher inimizades regionais, é um suicídio político?
Sim, é verdade, não é fácil, mais fácil foi destruir a estrutura, agora vão todos dizer — não, o território mudou imenso, não podemos recorrer aos velhos mapas. Talvez, mas então, se o determinismo analítico voltar a tomar conta de nós, nada faremos, deixamos correr e fica tudo na mesma. Assumir antigas capitais de distrito pode não resultar na totalidade, admito, mas têm uma distribuição territorial equilibrada e são seguramente um bom ponto de partida. Mas as actuais NUT 3 também o são. Mais do que cinzentas Comunidades Intermunicipais poderiam passar a ser um território culturalmente significante, uma auto-referência para o território que lhes dá corpo.
Sim, não há dívida que entre uma e outra poderia estar a solução. A primeira pode pecar por conservadorismo, talvez. A segunda pode pecar por excessiva em número, uma rede demasiado densa, uma malha demasiado apertada. Há que trabalhar politicamente, tecnicamente e, sobretudo, culturalmente. Há que reinventar a rede.
Digamos só, por fim, que no que diz respeito à circunstância das actuais NUT 2, também de certo modo indefinida ou no mínimo expectante, muito haveria a clarificar, deixariam de ser regiões abstractas passariam a dar corpo a conjuntos significantes de cidades e dos seus respectivos territórios, com todas as vantagens que daí adviriam. Desde logo no equilíbrio, mas também no florescimento económico, na competitividade, na atractividade e na complementaridade. Todas as actuais regiões ganhariam com isso, mesmo as áreas metropolitanas, todas se enriqueceriam mutuamente. Mas parece óbvio que as que se teriam de reinventar são aquelas que mais definham por falta de polarização urbana: o Norte, sobretudo o Nordeste; o Centro e o Alentejo.
Por último, e para que este programa para todo o território, que poderíamos designar por uma Política de Cidades, se desenvolvesse, haveria que combater arcaicos preconceitos e dirimir rançosos tabus.
Sim, porque temos de admitir que há ainda uma ideia nefasta no pensamento da generalidade das elites portuguesas contemporâneas que é a de que não pode haver lugar a mais cidades, somos um país demasiado pequeno. É um pensamento que entra como uma luva na inevitabilidade determinística de que o futuro é exclusivamente metropolitano ou não é. É, para além do mais, um preconceito radicado no velho fatalismo lusitano que, embora parecendo adormecido, não deixamos de tropeçar constantemente nele.
Mas há que acreditar que vale a pena, se não servir para mais, pelo menos servirá para que a televisão pública não se refira a um incêndio florestal na Ribeira Lima, na Mata de Mira ou em Aljezur como uma catástrofe no Interior. Sabem ao que me refiro.